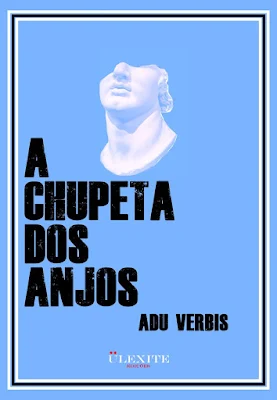quarta-feira, 29 de julho de 2020
segunda-feira, 27 de julho de 2020
O CONTRATO SOCIAL
Por Adu Verbis
A premissa que sugere que, em estado de natureza, o homem é livre é uma forma de suavizar a ideia de que, na natureza, existe uma hierarquia competitiva entre os homens, onde a disputa e a competição determinam quem, de fato, é livre e quem impõe as regras na cadeia competitiva.
A liberdade, portanto, é construída através da disputa e da competição, com os recursos disponíveis na natureza e a natureza de cada indivíduo na disputa. A premissa de que, em estado de natureza, o homem é livre busca contrastar com a ideia de que “o homem é o lobo do homem” e serve como uma justificativa para afirmar que, apesar do ardor competitivo entre os homens, o homem é, em essência, bom.
Tanto o Iluminismo quanto o liberalismo buscam atenuar a maldade do homem, enquanto ser animal, em estado de natureza, e constroem a ideia de que o homem é igual perante a natureza, possuindo uma natureza boa. E por ser bom por natureza, o homem seria capaz de viver de forma civilizada.
A ideia de que, para construir um Estado que represente sua generosidade, o homem abdica de sua liberdade, conquistada na disputa e na competição de seu estado de natureza, também serve para encobrir a realidade de que o homem continua sendo o lobo do homem, capaz de abdicar de sua liberdade conquistada na disputa em prol da humanidade.
Na prática, porém, o homem permanece sendo o lobo do homem. Os mais fortes são os donos da liberdade e transformam-na em um bem e produto de desejo. Aqueles que não são fortes o suficiente para ser livres terão que pagar pela liberdade, ajustando-se aos termos do contrato social ditado pelos mais fortes.
Tanto o Iluminismo quanto o Liberalismo, nas entrelinhas, sugerem que existe uma tríade humana: o mais forte acima do mediano, e o mediano acima do mais fraco. E é através do processo de disputa e competição que se dá a categorização social.
O homem mais forte está no topo da cadeia e, por ser mais forte e dono de si e de suas ações, gerencia o preço da liberdade de acordo com a procura; isso porque muitos preferem viver sob a proteção dos mais fortes, sem lutar pela liberdade. Podemos interpretar que, no estado de natureza, o homem mais forte seria um homem livre, por ascender na cadeia da sobrevivência, onde o homem é o lobo do homem.
O Iluminismo e o Liberalismo, em seu discurso político e filosófico, opõem-se ao absolutismo, buscando a centralidade da liberdade, que estabelece um contrato social. Um exemplo de contrato social que autorregula as relações entre os homens dentro da tríade humana (forte, mediano e fraco) é a democracia.
A democracia pode ser classificada como liberal ou iliberal. A diferença entre ambas é que, na democracia liberal, parece haver uma harmonia constitucional que opera de maneira integral, tanto moral quanto material.
Enquanto que, na democracia iliberal, o que parece ser harmônico na democracia liberal se quebra; o que na democracia liberal parece total, na democracia iliberal parece parcial. Ambas, a democracia liberal com seus benefícios processuais e a democracia iliberal, possuem uma essência autorreguladora: cultura, política e economia são reguladas conforme uma normatividade eletiva.
O Iluminismo e o Liberalismo buscam disfarçar a ideia de que o homem é o lobo do homem. Essa maquiagem conceitual sustenta-se pela organicidade pragmática da democracia e pelo fato de que o homem mediano desempenha o papel de intermediário na preservação da estrutura da tríade humana: forte, mediano e fraco. Podemos concluir que o contrato social é, na verdade, uma aspiração do homem mediano em ascender em termos éticos, políticos e econômicos.
Referência:
Iluminismo – Descartes, Bacon, Locke e Newton.
Thomas Hobbes – “O homem é o lobo do homem”
Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau – Contrato social
Adam Smith – Liberalismo