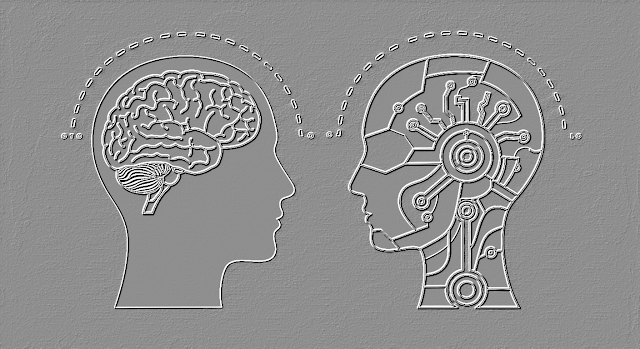Outro dia, fui surpreendido por uma ideia que, num primeiro momento, achei um devaneio. Mas ela acabou grudando na minha cabeça. Comparei os artistas performáticos dos anos 60 e 80 com os atuais influenciadores digitais. Nos anos 80, eu acreditava que os performances das décadas de 60 a 80 habitavam um universo distante da realidade, ou seja, ocupavam palcos de vanguarda e salões experimentais, e nem sempre se comunicavam com a realidade, mas sim com grupos fechados; ou como se diz hoje, com bolha.
Hoje, as redes sociais são palcos, e a internet, um mundo paralelo. Nesse mundo paralelo encontra-se de tudo, mas aqui vou me concentrar nas dançinhas coreografadas, nos vlogs confessionais e em outras tantas atitudes cuidadosamente estudadas, lançadas nos palcos digitais. Os performances buscavam arte e contestação, enquanto que os influênciadores, muitas vezes não retratam fatos ou verdades, mas sim uma estética e uma visão subjetiva de época.
Absorvido pelo que se chama de conteúdo nas redes sociais, e pela arte da vanguarda performática dos anos 60 a 80, perguntei a mim mesmo: o que realmente diferencia os performances com sua arte nas décadas passadas dos influenciadores digitais com seus conteúdos líquidos?
A performance foi uma modalidade artística muito comum entre os anos 60 e 80. Mesclava linguagens, tendo o corpo como veículo e o meio como a mensagem. Já o influenciador é alguém que, por meio de sua presença pública, especialmente nas redes sociais, que são o meio, exerce influência sobre comportamentos, opiniões, decisões de consumo, estilos e outros motes.
Tanto o performance quanto o influenciador se manifestam por meio do corpo e de ideias, transformando o meio em mensagem. Se antes Yoko Ono sentava-se no palco e oferecia sua roupa à tesoura do outro, hoje há jovens que se despem – emocionalmente ou literalmente – diante da câmera, esperando que os comentários digam algo sobre quem são. Não se trata apenas de um paralelo estético, mas de uma linhagem simbólica. O corpo continua sendo o centro: corpo-expressão, corpo-ritual, corpo-mensagem.
O grupo Fluxus, um movimento artístico e interdisciplinar ativo nas décadas de 60 a 80, que se proclamava como antiarte, já dizia: “a arte é vida”. Hoje, os influenciadores parecem dizer o inverso, com o mesmo impacto: “a vida é conteúdo”. A diferença está menos na intenção e mais no contexto. Enquanto os performáticos buscavam romper com as instituições da arte e questionar seus limites, os influenciadores operam dentro de plataformas altamente capitalizadas, onde cada gesto pode ser convertido em métrica e monetizado.
O fio da meada entre performances e influenciadores está na mensagem. A banalidade ou a contestação podem ser convertidas em expressão de liberdade, e a mentira, em fato. O público é parte essencial do processo, tanto dos performances quanto dos influenciadores. Seja na sala escura de um espaço alternativo ou numa live de maquiagem, num quarto iluminado por LED. A vontade de se mostrar para o outro e a busca por dizer alguma coisa e ser ouvido são a base comum de ambos.
E nessa vontade de se manifestar, seja dos performances nos anos 60 e 80, seja dos influenciadores hoje, há também a química. Literalmente. A dopamina, neurotransmissor do desejo, do prazer e da antecipação da recompensa, desempenha um papel silencioso nas manifestações dos performances em suas contestações estéticas, assim como na arquitetura da exposição constante dos influenciadores. Cada curtida, cada comentário, cada nova notificação atua como um pequeno disparo de dopamina, reforçando o ciclo entre visibilidade e validação.
Mas, se toda performance tem seu público, todo influenciador tem seu preço. Nos anos 60 e 70, o preço era a incompreensão, o escândalo, às vezes a violência. Marina Abramović se colocava em risco real ao permitir que o público fizesse o que quisesse com seu corpo. O artista pagava com dor, anonimato, marginalidade.
O influenciador de hoje, embora navegue em mares aparentemente mais suaves, paga com outra moeda: constância, relevância, autoexposição contínua. O algoritmo exige sacrifícios diários e, em troca, libera doses intermitentes de dopamina que viciam e perpetuam o ciclo performático dos aplausos e dos likes.
Talvez o espetáculo não tenha mais palco fixo. Ele acontece em qualquer lugar onde houver uma câmera, um feed, uma audiência. E cada um que participa, seja artista ou influenciador, paga o preço por tornar visível aquilo que normalmente se guardaria. Isso é performático, e tem suas recompensas e punições.
Não é exagero ver, em muitos desses influenciadores contemporâneos, a herança inconsciente dos performáticos do passado. Se George Maciunas, artista, arquiteto e designer lituano-americano (1931–1978), fundador do movimento Fluxus, quis dissolver as fronteiras entre arte e vida, talvez hoje estejamos testemunhando uma dissolução ainda mais radical: a entre vida, transmissão e recompensa.
Não afirmo que um TikTok seja uma obra de arte, mas talvez o impulso dos performances e dos influenciadores seja o mesmo: provocar, revelar, existir. O palco muda, o público se multiplica, mas a performance, essa busca por sentido diante do olhar do outro, continua atravessando os tempos.
O que há entre os performances e os influenciadores é uma linha tênue que separa um tempo do outro. Essa linha é feita de desejo, risco, espetáculo e química. Uma linha que conecta décadas distintas, mas pulsa com a mesma urgência de ser visto, de afetar e de permanecer — mesmo que seja por alguns segundos numa galeria ou num feed alheio.
Em resumo, fazer um vídeo de dancinha pode até não ser arte, mas é performance. E dar um like num vídeo é como aplaudir uma performance. Nas décadas de 60 ou 80, os artistas eram glorificados pelos aplausos e pelas portas abertas, assim como os influenciadores são glorificados pelos likes e pelo retorno econômico.